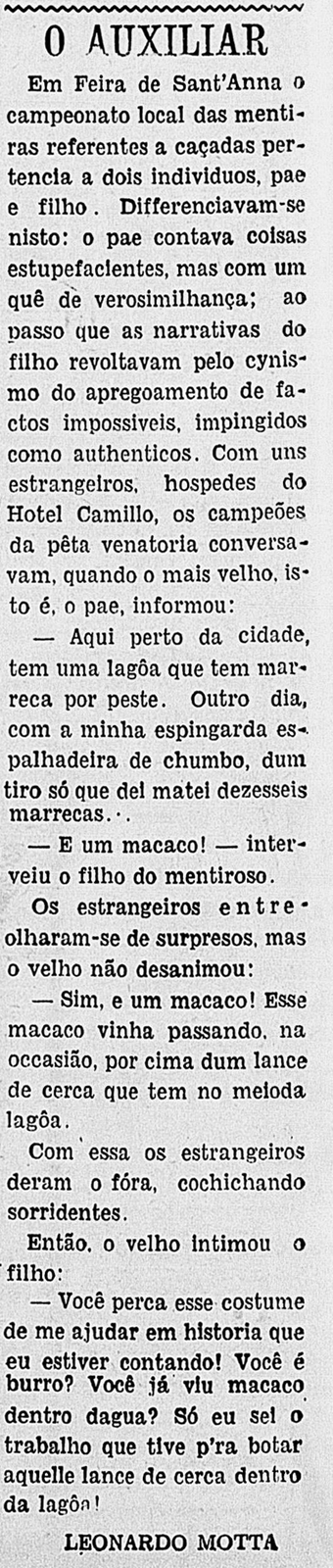Enganos...
Esse caso do “suicida” de Niterói tem o seu lado agradável.
Agradável – é bom dizer – para o “ressuscitado”, porque para o outro não teve graça nenhuma.
Aqui, um Sr. Nunes, que tinha uma agência de casamentos, partiu para o Ignorado. Partiu, deixando cartas, dizendo que ia para lá mesmo. E foi para Niterói. Lá, na Praia Grande, havia um homem com o lindo nome de João Antunes de Castro Guimarães (não é o Sr. João Guimarães) a quem aprouve espairecer, ir passear, dar um giro na zona, sem dizer nada à família... Por uma fatalidade dessas que descem d’além e caem em Niterói, apareceu lá um cadáver. Um homem havia dado um tiro nos miolos e estava no Necrotério. Quem era? A família (ou os parentes) do Sr. João Antunes de Castro Guimarães foi ao Necrotério e reconheceu o cadáver. Era o cadáver do defunto. Entrou logo em despesas e fez um enterro “baita”! Ao saimento fúnebre compareceram todos os “grossos” de Niterói, até o juiz de direito.
Entrementes, o Sr. João Antunes de Castro Guimarães (não é, etc.) estava em Maricá, a ler os jornais. E tanto leu que deparou com um anúncio de missa de sétimo dia. E tanto firmou, que viu o nome do falecido. E tanto viu o nome, que acabou vendo que a missa era dele, era por alma dele...
Ora essa!... E leu mais que o enterro havia sido muito concorrido, e que toda a gente em Niterói “churava”, como diz certa atriz do Recreio. O “defunto” disse consigo: “vão agourar o boi!” e tomou o trem à pressa a ver se chegava em Niterói a tempo de assistir à “sua” missa de sétimo dia...
Chegou a tempo... Os herdeiros ainda não haviam feito o inventário. Tudo estava intacto. Ah! que susto!... E o Sr. João Antunes de Castro Guimarães (não é o Sr. João Guimarães) saiu a correr, de jornal em jornal, de Niterói e de cá, a dizer que não tinha morrido...
Foi sorte!... Afinal, o outro, o que morreu de verdade, não deixou de ter o seu enterro pomposo. Sempre foi uma última consolação. O Sr. João Guimarães há de lamentar também – coitado! – que quando morrer de verdade talvez não tenha um enterro tão “baita” como teve agora... para os outros.
Gazeta de Notícias, 22 de outubro de 1916.
Esse caso do “suicida” de Niterói tem o seu lado agradável.
Agradável – é bom dizer – para o “ressuscitado”, porque para o outro não teve graça nenhuma.
Aqui, um Sr. Nunes, que tinha uma agência de casamentos, partiu para o Ignorado. Partiu, deixando cartas, dizendo que ia para lá mesmo. E foi para Niterói. Lá, na Praia Grande, havia um homem com o lindo nome de João Antunes de Castro Guimarães (não é o Sr. João Guimarães) a quem aprouve espairecer, ir passear, dar um giro na zona, sem dizer nada à família... Por uma fatalidade dessas que descem d’além e caem em Niterói, apareceu lá um cadáver. Um homem havia dado um tiro nos miolos e estava no Necrotério. Quem era? A família (ou os parentes) do Sr. João Antunes de Castro Guimarães foi ao Necrotério e reconheceu o cadáver. Era o cadáver do defunto. Entrou logo em despesas e fez um enterro “baita”! Ao saimento fúnebre compareceram todos os “grossos” de Niterói, até o juiz de direito.
Entrementes, o Sr. João Antunes de Castro Guimarães (não é, etc.) estava em Maricá, a ler os jornais. E tanto leu que deparou com um anúncio de missa de sétimo dia. E tanto firmou, que viu o nome do falecido. E tanto viu o nome, que acabou vendo que a missa era dele, era por alma dele...
Ora essa!... E leu mais que o enterro havia sido muito concorrido, e que toda a gente em Niterói “churava”, como diz certa atriz do Recreio. O “defunto” disse consigo: “vão agourar o boi!” e tomou o trem à pressa a ver se chegava em Niterói a tempo de assistir à “sua” missa de sétimo dia...
Chegou a tempo... Os herdeiros ainda não haviam feito o inventário. Tudo estava intacto. Ah! que susto!... E o Sr. João Antunes de Castro Guimarães (não é o Sr. João Guimarães) saiu a correr, de jornal em jornal, de Niterói e de cá, a dizer que não tinha morrido...
Foi sorte!... Afinal, o outro, o que morreu de verdade, não deixou de ter o seu enterro pomposo. Sempre foi uma última consolação. O Sr. João Guimarães há de lamentar também – coitado! – que quando morrer de verdade talvez não tenha um enterro tão “baita” como teve agora... para os outros.
Gazeta de Notícias, 22 de outubro de 1916.