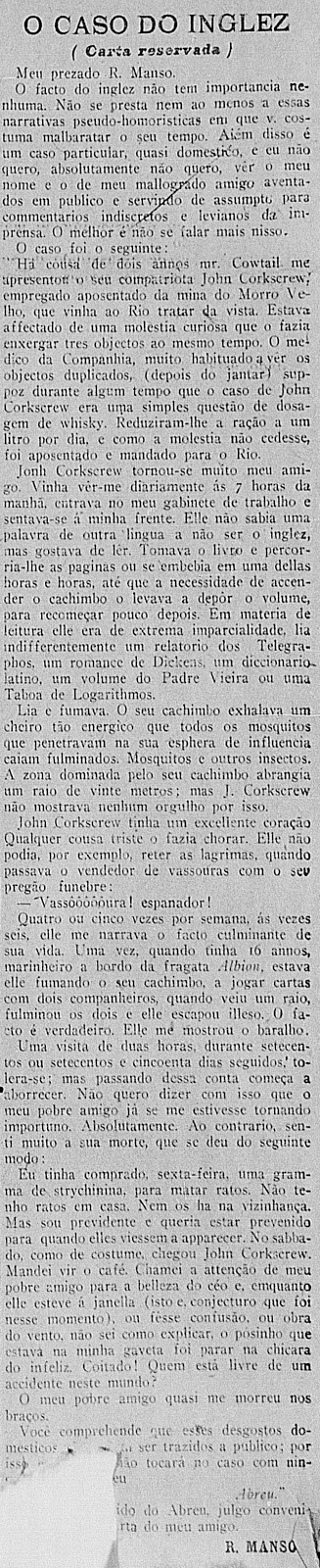segunda-feira, 12 de dezembro de 2016
quarta-feira, 7 de dezembro de 2016
sexta-feira, 2 de dezembro de 2016
segunda-feira, 28 de novembro de 2016
terça-feira, 22 de novembro de 2016
sexta-feira, 18 de novembro de 2016
sábado, 5 de novembro de 2016
quinta-feira, 20 de outubro de 2016
sábado, 15 de outubro de 2016
terça-feira, 11 de outubro de 2016
terça-feira, 4 de outubro de 2016
quarta-feira, 28 de setembro de 2016
terça-feira, 27 de setembro de 2016
sexta-feira, 23 de setembro de 2016
R. Manso
Formigas
Ontem, de manhã, encontrei o jardim invadido pelas formigas. Não sei por onde penetraram, porque a cancela estava fechada à chave. A invasão devia ter começado às primeiras horas da noite, porque já tinham construído casamatas, trincheiras e outras obras de defesa.
Minha primeira impressão foi de terror, porque eu sei (já o li numa revista inglesa), que as formigas no Brasil atacam cidades, expulsam os habitantes e destroem quanto encontram. Mas logo recuperei o sangue frio e me pus de observação.
Na escola primária aprendi a ler em um livro, subvencionado pelo Ministério da Agricultura das formigas. Hoje é que eu tenho a certeza disso, tal o número de patranhas que o livro continha sobre esses insetos. Dizia que elas são muito laboriosas e inteligentes, que armazenam víveres, que fazem guerras, que possuem vacas de leite, e até, se bem me lembro, que votam e que discutem política.
Pode ser que haja uma nação de formigas civilizadas, com todos esses progressos e mesmo uma Academia de Letras. Mas as formigas vermelhas, que invadiram meu jardim são muito atrasadas, são selvagens, estão ainda no período da pedra lascada.
Estive a reparar um esquadrão delas, que conduzia um palito. É notório que o palito é o objeto mais impróprio que há para alimentação. As formigas não sabiam disso e lá o iam levando, a trancos e barrancos, quando me resolvi a intervir, a embargar a tolice. Coloquei uma pedra em cima do palito, e fiquei observando.
Se um carregador fosse pela rua, arrastando um obelisco, e viesse um gigante e colocasse em cima o Pão de Açúcar, que faria ele, fosse numerado ou não? Verificando a impossibilidade de remover tal peso,lavaria as mãos, como Pilatos, ou iria dar parte à Polícia. As formigas não fizeram assim. continuaram a empregar toda a força; e o palito imóvel. A certo momento elas deixaram o trabalho, conferenciaram entre si, recriminando-se, com certeza, umas às outras, de estarem perturbando o serviço e depois de combinarem não sei o que, voltaram de novo à obra. Desta vez dividiram-se em dois grupos iguais, passaram cuspo nas mãos, firmaram os pés e começaram a puxar o palito em direções opostas. Aborrecido com tanta falta de senso, pus fim ao espetáculo com um piparote.
Estive observando outra formiga, à disparada, com um enorme grão de terra nas costas. Para que, não sei. Quando no caminho havia uma montanha, ou um precipício, em vez de contorná-los, o inseto seguia em linha reta. Em campo aberto, porém, dava voltas de quilômetros (quilômetros relativos), descrevia uma espiral ou um 8 e seguia, estonteada. A certa altura abandonou a carga e foi-se embora, sem ao menos olhar para trás. O procedimento dessa formiga é comparável ao do homem que tivesse que ir a pé, com um automóvel às costas, do Monroe ao Municipal, e, em vez de seguir diretamente, desse uma volta por Cascadura, galgando o morro de Santa Teresa; e quando estivesse de volta, largasse a carga à toa, na Avenida e fosse procurar outra loucura que fazer.
Mas o pior (e é esse o motivo do meu azedume contra as formigas) é que elas me estão minando a raiz de uma bela trepadeira. Logo que descobri, pedi conselhos aos vizinhos. Ensinaram-me, para afugentá-las, a pôr um pedaço de cânfora junto da planta. Quem tiver vontade de assistir a um pânico, atire um pedaço de cânfora entre formigas. Elas debandam para todos os lados, desorientadas, espavoridas. Depois de correrem como doidas, trinta ou quarenta centímetros, param, refletem e voltam; e ligam tanta importância à cânfora, como a um lápis. Outro vizinho aconselhou-me a naftalina; mas parece que foi por sarcasmo. Eu experimentei. Não há nada que as formigas apreciem tanto como a naftalina; são loucas por naftalina; é o seu perfume predileto. Empreguei outros processos, em vão. Por fim tive a ideia de pôr a descoberto a raiz da planta e regá-la com ácido fênico; mas eu mesmo, sem auxílio de ninguém, descobri, a tempo, que esse processo é idiota.
Depois de levar toda a manhã nesse trabalho, adquiri uma experiência muito útil. Conheço agora quais são os melhores meios de afugentar as formigas.
A minha trepadeira vai morrer, eu sei disso; não guardo ilusões a esse respeito. Mas um consolo me resta – O rei da Inglaterra é muito poderoso. O imperador da Alemanha é ainda mais. Pois, nem o imperador da Alemanha, nem o rei da Inglaterra são capazes de afugentar as formigas da raiz de uma trepadeira com cânfora, nem naftalina, nem mel com sublimado, nem água quente, nem infusão de fumo, nem água de sabão.
Gazeta de Notícias, 7 de dezembro de 1911.
Ontem, de manhã, encontrei o jardim invadido pelas formigas. Não sei por onde penetraram, porque a cancela estava fechada à chave. A invasão devia ter começado às primeiras horas da noite, porque já tinham construído casamatas, trincheiras e outras obras de defesa.
Minha primeira impressão foi de terror, porque eu sei (já o li numa revista inglesa), que as formigas no Brasil atacam cidades, expulsam os habitantes e destroem quanto encontram. Mas logo recuperei o sangue frio e me pus de observação.
Na escola primária aprendi a ler em um livro, subvencionado pelo Ministério da Agricultura das formigas. Hoje é que eu tenho a certeza disso, tal o número de patranhas que o livro continha sobre esses insetos. Dizia que elas são muito laboriosas e inteligentes, que armazenam víveres, que fazem guerras, que possuem vacas de leite, e até, se bem me lembro, que votam e que discutem política.
Pode ser que haja uma nação de formigas civilizadas, com todos esses progressos e mesmo uma Academia de Letras. Mas as formigas vermelhas, que invadiram meu jardim são muito atrasadas, são selvagens, estão ainda no período da pedra lascada.
Estive a reparar um esquadrão delas, que conduzia um palito. É notório que o palito é o objeto mais impróprio que há para alimentação. As formigas não sabiam disso e lá o iam levando, a trancos e barrancos, quando me resolvi a intervir, a embargar a tolice. Coloquei uma pedra em cima do palito, e fiquei observando.
Se um carregador fosse pela rua, arrastando um obelisco, e viesse um gigante e colocasse em cima o Pão de Açúcar, que faria ele, fosse numerado ou não? Verificando a impossibilidade de remover tal peso,lavaria as mãos, como Pilatos, ou iria dar parte à Polícia. As formigas não fizeram assim. continuaram a empregar toda a força; e o palito imóvel. A certo momento elas deixaram o trabalho, conferenciaram entre si, recriminando-se, com certeza, umas às outras, de estarem perturbando o serviço e depois de combinarem não sei o que, voltaram de novo à obra. Desta vez dividiram-se em dois grupos iguais, passaram cuspo nas mãos, firmaram os pés e começaram a puxar o palito em direções opostas. Aborrecido com tanta falta de senso, pus fim ao espetáculo com um piparote.
Estive observando outra formiga, à disparada, com um enorme grão de terra nas costas. Para que, não sei. Quando no caminho havia uma montanha, ou um precipício, em vez de contorná-los, o inseto seguia em linha reta. Em campo aberto, porém, dava voltas de quilômetros (quilômetros relativos), descrevia uma espiral ou um 8 e seguia, estonteada. A certa altura abandonou a carga e foi-se embora, sem ao menos olhar para trás. O procedimento dessa formiga é comparável ao do homem que tivesse que ir a pé, com um automóvel às costas, do Monroe ao Municipal, e, em vez de seguir diretamente, desse uma volta por Cascadura, galgando o morro de Santa Teresa; e quando estivesse de volta, largasse a carga à toa, na Avenida e fosse procurar outra loucura que fazer.
Mas o pior (e é esse o motivo do meu azedume contra as formigas) é que elas me estão minando a raiz de uma bela trepadeira. Logo que descobri, pedi conselhos aos vizinhos. Ensinaram-me, para afugentá-las, a pôr um pedaço de cânfora junto da planta. Quem tiver vontade de assistir a um pânico, atire um pedaço de cânfora entre formigas. Elas debandam para todos os lados, desorientadas, espavoridas. Depois de correrem como doidas, trinta ou quarenta centímetros, param, refletem e voltam; e ligam tanta importância à cânfora, como a um lápis. Outro vizinho aconselhou-me a naftalina; mas parece que foi por sarcasmo. Eu experimentei. Não há nada que as formigas apreciem tanto como a naftalina; são loucas por naftalina; é o seu perfume predileto. Empreguei outros processos, em vão. Por fim tive a ideia de pôr a descoberto a raiz da planta e regá-la com ácido fênico; mas eu mesmo, sem auxílio de ninguém, descobri, a tempo, que esse processo é idiota.
Depois de levar toda a manhã nesse trabalho, adquiri uma experiência muito útil. Conheço agora quais são os melhores meios de afugentar as formigas.
A minha trepadeira vai morrer, eu sei disso; não guardo ilusões a esse respeito. Mas um consolo me resta – O rei da Inglaterra é muito poderoso. O imperador da Alemanha é ainda mais. Pois, nem o imperador da Alemanha, nem o rei da Inglaterra são capazes de afugentar as formigas da raiz de uma trepadeira com cânfora, nem naftalina, nem mel com sublimado, nem água quente, nem infusão de fumo, nem água de sabão.
Gazeta de Notícias, 7 de dezembro de 1911.
sexta-feira, 16 de setembro de 2016
Urbano Duarte
HUMORISMOS
Todo homem tem o seu fraco.
O do Sr. Souza é festejar o dia dos seus anos com um sarau circuncisfláutico, onde corre à ufa um bastardinho “recebido diretamente”.
Na véspera ele envia aos jornais, pelo correio, uma nota assim concebida: “Completa mais um ano de existência o Ilm. Sr. J. F. de Souza, conceituado comerciante da nossa praça e sócio interessado da importante firma Pires & C.
A S. S. apresentamos as nossas congratulações”.
O noticiarista reduz tudo isto à forma lacônica – faz hoje anos o Sr. Fulano de tal – sem a quarta parte de um adjetivo amável, o que mete muita raiva ao Souza e fá-lo blaterar contra os jornais e dizer que nossa imprensa não se acha à altura da sua mixão xoxial.
A casa do anfitrião enche-se de gente, dança-se, brinca-se muito e mais de um casamento tem saído dali. O peru do Souza atrai gente de todos os pontos da cidade, porque ele conta amigos desde a Ponta do Caju até a Gávea.
Quanto ao belo sexo, há sempre lá um moçaime sacudido de encher o olho.
A data de aniversário do Sr. Souza é 22 de novembro.
Ora, neste dia, como sabem, houve na cidade pânico com a notícia de que a marinha se tinha revoltado contra a ditadura.
Os comensais costumeiros do Souza, todos burgueses pacatos e consertadores de tanque em dias de chinfrinada, não se atreveram a sair de noite para ir ao bródio.
Moças, porém, não faltaram, porque há certas raparigas que, em fazendo intenção de dançar, dançam mesmo, embora tenham de passar por entre um regimento de carabineiros ou por cima de uma floresta de baionetas.
A casa do Souza estava, pois, cheia de moças, umas trinta e tantas, mas só havia meia dúzia de rapazes dançáveis... tudo o mais era bogodó (bogodó é a alcunha que elas dão aos homens casados, que não namoram e só vão a reuniões para jogar solo, conversar sobre debêntures (que ódio têm elas dos debêntures!) e discutir política). O Souza estava furioso com a política, que lhe entornara o caldo. E punha as mãos na cabeça, cochichando com a esposa:
– Como há de ser, Sra. D. Eufrásia? Seis rapazes para 30 moças! E todas estão doidas por dançar!
– Já dançam umas com as outras... Isto é uma vergonha, seu Souza!...
O anfitrião, já tonto, sem saber como remediar a coisa, dirigiu-se a um grupo de rapazes e pediu-lhes pelo amor de Deus que saíssem a passeio pelo bairro e recrutassem moços seus conhecidos, a fim de o salvarem dos apuros.
Eles obtemperaram aos seus desejos, tomaram os chapéus e começaram o recrutamento. Mas, patuscos de força, apanharam o pião na unha e começaram a arrebanhar todos os rapazes que encontraram, fossem ou não seus conhecidos. A fórmula adotada era esta:
– Ó colega em anos, o senhor quer engrossar um firribidi?
Alguns recusaram-se, julgando ser troça, porém muitos outros foram vestir-se às pressas e aceitaram o convite.
Quem escreve estas linhas teve a honra de ser um dos recrutados.
Ah! não lhes conto nada!
Cem anos que viva, não encontrarei outra igual!
A habitação do Souza encheu-se subitamente de uma caterva de rapazes, positivamente resolvidos a divertirem-se.
D. Eufrásia, coitada! ao ver aquela invasão de desconhecidos, fugiu para o quarto e trancou-se por dentro.
As moças entusiasmaram-se e caíram numa pândega, que ninguém mais as podia conter.
Só viemos a saber quem era o dono da casa à hora da ceia.
Um sujeito de cavanhaque fez uma saúde às belas qualidades do Sr. Souza e da sua Exma. Senhora, a comadre Eufrásia.
Todos nós, de copo em punho:
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– E a comadre, onde está? perguntou o homem do cavanhaque.
O Souza gritou para dentro:
– Eufrásia!
E baixo, a um filhinho:
– Vai chamar a mamãe... anda!
D. Eufrásia estava no quarto, embezerrada, vermelha, sem querer sair.
Ao lado duas senhoras procuravam convencê-la:
– Vá, titia, isto é feio...
– Os moço estão chamando vosmecê, dindinha...
Ela batia com o pé, que não ia, que não ia, que não ia!
– Ó Sra. D. Eufrásia, berra o Souza, cá se reclama a sua presença!
Por fim a matrona se apresenta, muito encalistrada.
– Comadre, às suas belas qualidades! disse o cavanhaque.
E todos nós, de copo em punho:
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– Comadre!
..........................................................................................................................................................................................................................
O bastardinho recebido diretamente devia ter produzido o seu efeito, porque às 6 horas da manhã ainda se dançava, sem música, e no jardim da frente dois recrutados ressonavam ruidosamente, ressupinados na grama, tendo um deles a boca toda suja de fio d’ovos.
Parece que o Souza resolveu não fazer mais anos no dia 22 de novembro.
O Paiz, 13 de dezembro de 1891.
Todo homem tem o seu fraco.
O do Sr. Souza é festejar o dia dos seus anos com um sarau circuncisfláutico, onde corre à ufa um bastardinho “recebido diretamente”.
Na véspera ele envia aos jornais, pelo correio, uma nota assim concebida: “Completa mais um ano de existência o Ilm. Sr. J. F. de Souza, conceituado comerciante da nossa praça e sócio interessado da importante firma Pires & C.
A S. S. apresentamos as nossas congratulações”.
O noticiarista reduz tudo isto à forma lacônica – faz hoje anos o Sr. Fulano de tal – sem a quarta parte de um adjetivo amável, o que mete muita raiva ao Souza e fá-lo blaterar contra os jornais e dizer que nossa imprensa não se acha à altura da sua mixão xoxial.
A casa do anfitrião enche-se de gente, dança-se, brinca-se muito e mais de um casamento tem saído dali. O peru do Souza atrai gente de todos os pontos da cidade, porque ele conta amigos desde a Ponta do Caju até a Gávea.
Quanto ao belo sexo, há sempre lá um moçaime sacudido de encher o olho.
A data de aniversário do Sr. Souza é 22 de novembro.
Ora, neste dia, como sabem, houve na cidade pânico com a notícia de que a marinha se tinha revoltado contra a ditadura.
Os comensais costumeiros do Souza, todos burgueses pacatos e consertadores de tanque em dias de chinfrinada, não se atreveram a sair de noite para ir ao bródio.
Moças, porém, não faltaram, porque há certas raparigas que, em fazendo intenção de dançar, dançam mesmo, embora tenham de passar por entre um regimento de carabineiros ou por cima de uma floresta de baionetas.
A casa do Souza estava, pois, cheia de moças, umas trinta e tantas, mas só havia meia dúzia de rapazes dançáveis... tudo o mais era bogodó (bogodó é a alcunha que elas dão aos homens casados, que não namoram e só vão a reuniões para jogar solo, conversar sobre debêntures (que ódio têm elas dos debêntures!) e discutir política). O Souza estava furioso com a política, que lhe entornara o caldo. E punha as mãos na cabeça, cochichando com a esposa:
– Como há de ser, Sra. D. Eufrásia? Seis rapazes para 30 moças! E todas estão doidas por dançar!
– Já dançam umas com as outras... Isto é uma vergonha, seu Souza!...
O anfitrião, já tonto, sem saber como remediar a coisa, dirigiu-se a um grupo de rapazes e pediu-lhes pelo amor de Deus que saíssem a passeio pelo bairro e recrutassem moços seus conhecidos, a fim de o salvarem dos apuros.
Eles obtemperaram aos seus desejos, tomaram os chapéus e começaram o recrutamento. Mas, patuscos de força, apanharam o pião na unha e começaram a arrebanhar todos os rapazes que encontraram, fossem ou não seus conhecidos. A fórmula adotada era esta:
– Ó colega em anos, o senhor quer engrossar um firribidi?
Alguns recusaram-se, julgando ser troça, porém muitos outros foram vestir-se às pressas e aceitaram o convite.
Quem escreve estas linhas teve a honra de ser um dos recrutados.
Ah! não lhes conto nada!
Cem anos que viva, não encontrarei outra igual!
A habitação do Souza encheu-se subitamente de uma caterva de rapazes, positivamente resolvidos a divertirem-se.
D. Eufrásia, coitada! ao ver aquela invasão de desconhecidos, fugiu para o quarto e trancou-se por dentro.
As moças entusiasmaram-se e caíram numa pândega, que ninguém mais as podia conter.
Só viemos a saber quem era o dono da casa à hora da ceia.
Um sujeito de cavanhaque fez uma saúde às belas qualidades do Sr. Souza e da sua Exma. Senhora, a comadre Eufrásia.
Todos nós, de copo em punho:
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– Sr. Souza!
– E a comadre, onde está? perguntou o homem do cavanhaque.
O Souza gritou para dentro:
– Eufrásia!
E baixo, a um filhinho:
– Vai chamar a mamãe... anda!
D. Eufrásia estava no quarto, embezerrada, vermelha, sem querer sair.
Ao lado duas senhoras procuravam convencê-la:
– Vá, titia, isto é feio...
– Os moço estão chamando vosmecê, dindinha...
Ela batia com o pé, que não ia, que não ia, que não ia!
– Ó Sra. D. Eufrásia, berra o Souza, cá se reclama a sua presença!
Por fim a matrona se apresenta, muito encalistrada.
– Comadre, às suas belas qualidades! disse o cavanhaque.
E todos nós, de copo em punho:
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– D. Eufrásia!
– Comadre!
..........................................................................................................................................................................................................................
O bastardinho recebido diretamente devia ter produzido o seu efeito, porque às 6 horas da manhã ainda se dançava, sem música, e no jardim da frente dois recrutados ressonavam ruidosamente, ressupinados na grama, tendo um deles a boca toda suja de fio d’ovos.
Parece que o Souza resolveu não fazer mais anos no dia 22 de novembro.
O Paiz, 13 de dezembro de 1891.
terça-feira, 13 de setembro de 2016
segunda-feira, 12 de setembro de 2016
R. Manso
À cata de uma pensão
O Abreu tendo de fechar a casa e enviar a família para fora (ele é adversário da cremação, não só “post-mortem”, como mesmo em vida), anda à procura de uma pensão para si. Encontrando no Paschoal um amigo solteiro e entendido no assunto, pediu-lhe informações. Esse rapaz reside atualmente em pensão.
– Boa? indagou o Abreu.
– Assim, assim. Como as outras.
– A sala de visitas é decente para se receber uma pessoa?
– Não tem sala de visitas.
– Onde se há de receber então uma senhora?
– Na sala de jantar.
– Quartos bons?
– De dois metros quadrados.
– Janela para a rua ou para a área?
– Nem para uma, nem para outra. Não tem janelas.
– Boa cama?
– Sim, conforme o ponto de vista em que você se colocar. Os colchões são excelentes para dormida de uma estatua; mas para corpo de carne, pode haver cousa melhor.
– Por que? Não é boa a crina?
– Não são de crina. São de flechas de foguete.
– Você tem certeza disso?
– Certeza não tenho. É a opinião da maioria dos pensionistas. Outros supõem que os colchões são cheios de varetas velhas de guarda-chuva.
– Mas os travesseiros, ao menos, serão de boa paina...
– Não são de paina; são de areia.
– Peneirada, fina?
– Não; saibro intermeado de calhaus.
– A que horas é a limpeza dos quartos?
– A hora nenhuma.
– Que fazem então os criados?
– Não há criados.
– Quem enche d’água o jarro?
– Não há jarros.
– Onde se lava então o rosto?
– Na cozinha.
– Talvez com o sabão de lavar panelas.
– Não. Na casa não há sabão. Não conhecem sabão. Uma vez deixei um pedaço, por descuido, na janela da sala de jantar. A dona da pensão viu-o, tomou-o com a ponta dos dedos, examinou e atirou à rua dizendo: Quem pôs aqui esta porcaria?
– A casa é sossegada?
– É menos das três da manhã até às oito. Durante esse tempo a dona da pensão martela os tamancos pelos corredores, sem parar.
– Quente?
– Lá isso é.
– Qual a temperatura?
– Não sei. O meu termômetro, que marcava só até 50°, explodiu na parede em princípio de novembro.
– Comida boa?
– O pão é regular; a farinha, a banana também. O resto não sei, porque nunca pude tragar.
– Muitos extraordinários?
– Tudo: café; chá; pão que exceda de meio; laranja, se tiver mais de nove gomos, um tostão por cada gomo de sobressalente; ovos quentes, quatro tostões cada um, se estiverem frescos, estando chocos a mulher faz uma diferença, cobra apenas trezentos réis; éter, para cheirar, 500 réis por cada dez minutos que durar a síncope...
– Durar o que?
– A síncope. Síncope de fome. Usa-se muito lá na pensão. O gás também paga-se à parte, passando aceso das 6 horas da tarde.
– E quando se leva um amigo para jantar, quanto se paga pela refeição?
– Não o sei. Nunca nenhum amigo meu foi lá jantar. Não tenho amigo nenhum idiota.
Mudou-se de assunto e o Abreu saiu pensativo. Até agora está à procura de uma pensão. Quando a encontrar, ele tomará um descanso de dois dias, e depois partirá à cata da fênix ou da mãe d’água.
Gazeta de Notícias, 30 de novembro de 1911.
O Abreu tendo de fechar a casa e enviar a família para fora (ele é adversário da cremação, não só “post-mortem”, como mesmo em vida), anda à procura de uma pensão para si. Encontrando no Paschoal um amigo solteiro e entendido no assunto, pediu-lhe informações. Esse rapaz reside atualmente em pensão.
– Boa? indagou o Abreu.
– Assim, assim. Como as outras.
– A sala de visitas é decente para se receber uma pessoa?
– Não tem sala de visitas.
– Onde se há de receber então uma senhora?
– Na sala de jantar.
– Quartos bons?
– De dois metros quadrados.
– Janela para a rua ou para a área?
– Nem para uma, nem para outra. Não tem janelas.
– Boa cama?
– Sim, conforme o ponto de vista em que você se colocar. Os colchões são excelentes para dormida de uma estatua; mas para corpo de carne, pode haver cousa melhor.
– Por que? Não é boa a crina?
– Não são de crina. São de flechas de foguete.
– Você tem certeza disso?
– Certeza não tenho. É a opinião da maioria dos pensionistas. Outros supõem que os colchões são cheios de varetas velhas de guarda-chuva.
– Mas os travesseiros, ao menos, serão de boa paina...
– Não são de paina; são de areia.
– Peneirada, fina?
– Não; saibro intermeado de calhaus.
– A que horas é a limpeza dos quartos?
– A hora nenhuma.
– Que fazem então os criados?
– Não há criados.
– Quem enche d’água o jarro?
– Não há jarros.
– Onde se lava então o rosto?
– Na cozinha.
– Talvez com o sabão de lavar panelas.
– Não. Na casa não há sabão. Não conhecem sabão. Uma vez deixei um pedaço, por descuido, na janela da sala de jantar. A dona da pensão viu-o, tomou-o com a ponta dos dedos, examinou e atirou à rua dizendo: Quem pôs aqui esta porcaria?
– A casa é sossegada?
– É menos das três da manhã até às oito. Durante esse tempo a dona da pensão martela os tamancos pelos corredores, sem parar.
– Quente?
– Lá isso é.
– Qual a temperatura?
– Não sei. O meu termômetro, que marcava só até 50°, explodiu na parede em princípio de novembro.
– Comida boa?
– O pão é regular; a farinha, a banana também. O resto não sei, porque nunca pude tragar.
– Muitos extraordinários?
– Tudo: café; chá; pão que exceda de meio; laranja, se tiver mais de nove gomos, um tostão por cada gomo de sobressalente; ovos quentes, quatro tostões cada um, se estiverem frescos, estando chocos a mulher faz uma diferença, cobra apenas trezentos réis; éter, para cheirar, 500 réis por cada dez minutos que durar a síncope...
– Durar o que?
– A síncope. Síncope de fome. Usa-se muito lá na pensão. O gás também paga-se à parte, passando aceso das 6 horas da tarde.
– E quando se leva um amigo para jantar, quanto se paga pela refeição?
– Não o sei. Nunca nenhum amigo meu foi lá jantar. Não tenho amigo nenhum idiota.
Mudou-se de assunto e o Abreu saiu pensativo. Até agora está à procura de uma pensão. Quando a encontrar, ele tomará um descanso de dois dias, e depois partirá à cata da fênix ou da mãe d’água.
Gazeta de Notícias, 30 de novembro de 1911.
quinta-feira, 8 de setembro de 2016
segunda-feira, 5 de setembro de 2016
R. Manso
Como se leem jornais
Uma vez hospedei um conhecido de vista, do interior, o capitão Cristiano, que viera do sertão de Minas Novas ao Rio, cobrar uma antiga letra de 18$700, sem falar nos juros, que montavam a mais do dobro. O devedor, porém, não estava mais aqui. Supunha-se que andava pelo Espírito Santo. Antes de seguir-lhe no encalço, o capitão Cristiano resolveu demorar-se uma semana, para se refazer da viagem.
Homem excelente e muito versado em parentescos, o capitão descobriu que nós vínhamos a ser parentes por parte de uma D. Maria Francisca, que era prima em terceiro grau da avó dele Cristiano e cunhada do escrivão Manuel Antônio, o qual era por sua vez primo muito chegado, em quinto grau, ou talvez quarto, da mulher de um tio avô meu. Lembrei-lhe então que eu sabia de um parentesco entre nós mais estreito, e mais seguro, porque compreendia os dois ramos, paterno materno, e vinha a ser o fato, sem sombra de dúvida, de descendermos ambos, em linha reta, de Noé. Essa circunstância não havia ocorrido ao capitão Cristiano. E tão satisfeito ficou ele com a minha descoberta, que resolveu me favorecer com outra semana de hospedagem.
Ao fim de poucos dias eu conhecia toda a vida do capitão Cristiano. Era uma biografia simples, sem prólogo, pontada de episódios insignificantes: a sua nomeação para escrivão de paz, a compra de uma besta ruana, e duas facadas, fechando o segundo e terceiro capítulo. A certa altura havia um parêntese que, segundo minhas conjecturas, compreendia cinco anos, durante os quais não sei onde ele esteve, nem o que fez. Sei apenas que, nesse período ele aprendeu a fabricar cuités de chifre, cestas e peneiras de bambu e a odiar jurados.
Eu não gosto de ouvir a mesma história contada mais de três vezes. Quando o capitão começou a repetir a sua pela quarta, procurei um pretexto para levantar-me e dei-lhe um Jornal do Commercio, recomendando-lhe que lesse, que era muito interessante.
Retirei-me. Quando voltei a tarde, o capitão não tinha ainda saído do quarto. Na sala de jantar estava o queijo inteiro, em vez de meio, indício veemente de que o hóspede não merendara. Supondo-o doente, cheguei à porta do quarto. Silêncio. Por fim percebi um cicio. Juntei o ouvido à fechadura e percebi uma voz baixa a dizer:
– Quarenta e dois mil quinhentos e noventa e três; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e quatro; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e cinco; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e seis; quarenta e dois mil seiscentos e dois; quarenta e dois mil...
Chamei o Anatólio e disse-lhe:
– O capitão está doido. Vá buscar uma corda e coloque-se a um lado da porta. A cozinheira fique do outro, com um pau de vassoura. Eu o faço sair do quarto e quando disser: “Agarre, Anatólio!” você agarre mesmo, e firme. Está ouvindo?
– Sim, senhor.
Assim se dispôs. Cheguei à porta, com o revólver engatilhado, e antes de bater, escutei. O capitão continuava no mesmo tom:
– Quarenta e dois mil seiscentos e vinte um; quarenta e dois mil seiscentos e vinte e dois; quarenta e dois mil seiscentos e vinte e...
Espiei pela fechadura. Ele estava com os cotovelos na mesa, a suar em bicas, lendo o Jornal do Commercio...
Para resumir. O caso foi o seguinte: O capitão recebeu o Jornal e estava embebido na leitura da página, que era a lista dos números de apólices, de não sei qual Estado, sorteadas para resgate.
Se houvesse voltado a página, encontraria telegramas, seção livre e artigos interessantes.
Todo o jornal é necessário saber-se ler. Para não acontecer como a um negociante de Goiás que assinou a Gazeta e daí a 15 dias escreveu:
“Sr. gerente – Ainda não acabei de ler o primeiro número que me chegou da Gazeta e já estou com a mesa cheia de outras. Peço para mandar o jornal mais espaçado, porque tenho outras cousas que fazer. Seu criado, obrigado, etc.”
Tudo é conveniente saber. Até ler jornais. Até mesmo escreve-los.
Gazeta de Notícias, 24 de novembro de 1911.
Uma vez hospedei um conhecido de vista, do interior, o capitão Cristiano, que viera do sertão de Minas Novas ao Rio, cobrar uma antiga letra de 18$700, sem falar nos juros, que montavam a mais do dobro. O devedor, porém, não estava mais aqui. Supunha-se que andava pelo Espírito Santo. Antes de seguir-lhe no encalço, o capitão Cristiano resolveu demorar-se uma semana, para se refazer da viagem.
Homem excelente e muito versado em parentescos, o capitão descobriu que nós vínhamos a ser parentes por parte de uma D. Maria Francisca, que era prima em terceiro grau da avó dele Cristiano e cunhada do escrivão Manuel Antônio, o qual era por sua vez primo muito chegado, em quinto grau, ou talvez quarto, da mulher de um tio avô meu. Lembrei-lhe então que eu sabia de um parentesco entre nós mais estreito, e mais seguro, porque compreendia os dois ramos, paterno materno, e vinha a ser o fato, sem sombra de dúvida, de descendermos ambos, em linha reta, de Noé. Essa circunstância não havia ocorrido ao capitão Cristiano. E tão satisfeito ficou ele com a minha descoberta, que resolveu me favorecer com outra semana de hospedagem.
Ao fim de poucos dias eu conhecia toda a vida do capitão Cristiano. Era uma biografia simples, sem prólogo, pontada de episódios insignificantes: a sua nomeação para escrivão de paz, a compra de uma besta ruana, e duas facadas, fechando o segundo e terceiro capítulo. A certa altura havia um parêntese que, segundo minhas conjecturas, compreendia cinco anos, durante os quais não sei onde ele esteve, nem o que fez. Sei apenas que, nesse período ele aprendeu a fabricar cuités de chifre, cestas e peneiras de bambu e a odiar jurados.
Eu não gosto de ouvir a mesma história contada mais de três vezes. Quando o capitão começou a repetir a sua pela quarta, procurei um pretexto para levantar-me e dei-lhe um Jornal do Commercio, recomendando-lhe que lesse, que era muito interessante.
Retirei-me. Quando voltei a tarde, o capitão não tinha ainda saído do quarto. Na sala de jantar estava o queijo inteiro, em vez de meio, indício veemente de que o hóspede não merendara. Supondo-o doente, cheguei à porta do quarto. Silêncio. Por fim percebi um cicio. Juntei o ouvido à fechadura e percebi uma voz baixa a dizer:
– Quarenta e dois mil quinhentos e noventa e três; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e quatro; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e cinco; quarenta e dois mil quinhentos e noventa e seis; quarenta e dois mil seiscentos e dois; quarenta e dois mil...
Chamei o Anatólio e disse-lhe:
– O capitão está doido. Vá buscar uma corda e coloque-se a um lado da porta. A cozinheira fique do outro, com um pau de vassoura. Eu o faço sair do quarto e quando disser: “Agarre, Anatólio!” você agarre mesmo, e firme. Está ouvindo?
– Sim, senhor.
Assim se dispôs. Cheguei à porta, com o revólver engatilhado, e antes de bater, escutei. O capitão continuava no mesmo tom:
– Quarenta e dois mil seiscentos e vinte um; quarenta e dois mil seiscentos e vinte e dois; quarenta e dois mil seiscentos e vinte e...
Espiei pela fechadura. Ele estava com os cotovelos na mesa, a suar em bicas, lendo o Jornal do Commercio...
Para resumir. O caso foi o seguinte: O capitão recebeu o Jornal e estava embebido na leitura da página, que era a lista dos números de apólices, de não sei qual Estado, sorteadas para resgate.
Se houvesse voltado a página, encontraria telegramas, seção livre e artigos interessantes.
Todo o jornal é necessário saber-se ler. Para não acontecer como a um negociante de Goiás que assinou a Gazeta e daí a 15 dias escreveu:
“Sr. gerente – Ainda não acabei de ler o primeiro número que me chegou da Gazeta e já estou com a mesa cheia de outras. Peço para mandar o jornal mais espaçado, porque tenho outras cousas que fazer. Seu criado, obrigado, etc.”
Tudo é conveniente saber. Até ler jornais. Até mesmo escreve-los.
Gazeta de Notícias, 24 de novembro de 1911.
quinta-feira, 1 de setembro de 2016
terça-feira, 30 de agosto de 2016
R. Manso
Maravilhas da ciência
A ciência – me disse o Abreu, cruzando as mãos sobre o estômago, onde se operava tranqüilamente a digestão do jantar – a ciência tem produzido tais maravilhas que, nos nossos dias, um escriturário da última classe de qualquer serviço público, goza mais conforto e bem estar do que Lúculo ou Creso.
Nos banquetes romanos, os convivas coroavam-se de rosas, mas eram iluminados a azeite. O candelabro mais luxuoso do palácio de um César não é digno de lavar os pés a uma lâmpada incandescente, que custa dois mil réis.
O transporte se fazia em carro de duas rodas. Um inventor de gênio acrescentou-lhe mais duas, e o esforço antigo parou aí. Esses carros tirados por fortes cavalos eram a última palavra como veículo de guerra e as únicas armas portáteis: o dardo, a lança, o arco. Imagine-se agora, Júlio César, antes ou depois de passar o Rubicão, levado nas asas da vitória, à frente de suas legiões, e vendo surgir, de surpresa, a uma volta do caminho, uma dúzia de táxi-autos, com outras tantas metralhadoras espocando.
E as maravilhas da eletricidade... A ciência capturou-a, sem saber com quem estava tratando, e ainda hoje ignora os seus antecedentes, filiação e natureza. Mas isso pouco importa. A eletricidade está hoje bem domesticada e submissa ao nosso serviço.
A esse propósito me acode um caso à memória. Em Lisboa, uma vez, tomei um “americano” e, fazendo uma cara apalermada, perguntei ao condutor:
– Que é dos cavalos?
Ele, com um sorriso condescendente me explicou:
– Este carro não tem c’valos. É ilétr’co.
– Eu sei disso; respondi. Mas que é que o faz andar? vapor? alguma mola? algum bicho?
– Não, s’nhor! É a iletr’cidade.
– E onde está ela, que a não vejo?
– ´Stá no fio e não posso dizer que ‘stá no fio. ‘Stá no trilho e não ‘stá no trilho. ‘Stá no mutôre e é o mesmo se lá não ‘stivesse, porque não se vê.
– Mas a eletricidade que é então?
O homem ficou indeciso:
– Iletr’cidade é... é... assim uma cousa que faz tremêre.
E é verdade. É, pelo menos, a melhor definição que conheço dessa força misteriosa. A eletricidade faz tremer o martelo dos tímpanos; faz tremer a luz, na lâmpada de arco; faz tremer o paciente, ao tomar o choque elétrico, e faz tremer até o consumidor, quando recebe a conta da Light.
Mas de todos os inventos baseados em descobertas da ciência, nenhum é mais maravilhoso do que o fonocinematógrafo, as fitas cantantes. O cinematógrafo é a diversão mais agradável e engenhosa porque conseguiu o que parecia impossível: dar-nos excelentes dramas e tragédias expurgadas de monólogos. O gramofone realizou outro desideratum: fornece-nos a voz de uma prima dona, livrando-nos de vê-la, e as suas muitas rugas e seus muitíssimos anos. Veio o cinematógrafo cantante, reuniu as duas invenções e realizou a maravilha, a perfeição, o suprassumo do aborrecimento. Quando o tenor canta: “Vem a meus braços!” a soprano já está atracada ou de volta. Depois que finda o “dó” de peito, ainda fica o tenor no pano, de boca aberta, alguns instantes. A isto chamou o inventor: sincronismo. Quando a voz e o gesto coincidirem, aprece que o fato se deverá chamar anacronismo.
Há cousas excelentes que “hurlent de se trouver ensemble”. O calomelanos é um pó muito apreciável e útil; o mesmo elogio merece o sal de cozinha. Reúnam-se, porém, os dois no estômago e o resultado será o sublimado corrosivo. Chama-se isso, em química, incompatibilidade.
Fenômeno semelhante sucede com o fonógrafo e o cinematógrafo. Separados são excelentes; juntos não provaram bem.
Gazeta de Notícias, 6 de novembro de 1911.
A ciência – me disse o Abreu, cruzando as mãos sobre o estômago, onde se operava tranqüilamente a digestão do jantar – a ciência tem produzido tais maravilhas que, nos nossos dias, um escriturário da última classe de qualquer serviço público, goza mais conforto e bem estar do que Lúculo ou Creso.
Nos banquetes romanos, os convivas coroavam-se de rosas, mas eram iluminados a azeite. O candelabro mais luxuoso do palácio de um César não é digno de lavar os pés a uma lâmpada incandescente, que custa dois mil réis.
O transporte se fazia em carro de duas rodas. Um inventor de gênio acrescentou-lhe mais duas, e o esforço antigo parou aí. Esses carros tirados por fortes cavalos eram a última palavra como veículo de guerra e as únicas armas portáteis: o dardo, a lança, o arco. Imagine-se agora, Júlio César, antes ou depois de passar o Rubicão, levado nas asas da vitória, à frente de suas legiões, e vendo surgir, de surpresa, a uma volta do caminho, uma dúzia de táxi-autos, com outras tantas metralhadoras espocando.
E as maravilhas da eletricidade... A ciência capturou-a, sem saber com quem estava tratando, e ainda hoje ignora os seus antecedentes, filiação e natureza. Mas isso pouco importa. A eletricidade está hoje bem domesticada e submissa ao nosso serviço.
A esse propósito me acode um caso à memória. Em Lisboa, uma vez, tomei um “americano” e, fazendo uma cara apalermada, perguntei ao condutor:
– Que é dos cavalos?
Ele, com um sorriso condescendente me explicou:
– Este carro não tem c’valos. É ilétr’co.
– Eu sei disso; respondi. Mas que é que o faz andar? vapor? alguma mola? algum bicho?
– Não, s’nhor! É a iletr’cidade.
– E onde está ela, que a não vejo?
– ´Stá no fio e não posso dizer que ‘stá no fio. ‘Stá no trilho e não ‘stá no trilho. ‘Stá no mutôre e é o mesmo se lá não ‘stivesse, porque não se vê.
– Mas a eletricidade que é então?
O homem ficou indeciso:
– Iletr’cidade é... é... assim uma cousa que faz tremêre.
E é verdade. É, pelo menos, a melhor definição que conheço dessa força misteriosa. A eletricidade faz tremer o martelo dos tímpanos; faz tremer a luz, na lâmpada de arco; faz tremer o paciente, ao tomar o choque elétrico, e faz tremer até o consumidor, quando recebe a conta da Light.
Mas de todos os inventos baseados em descobertas da ciência, nenhum é mais maravilhoso do que o fonocinematógrafo, as fitas cantantes. O cinematógrafo é a diversão mais agradável e engenhosa porque conseguiu o que parecia impossível: dar-nos excelentes dramas e tragédias expurgadas de monólogos. O gramofone realizou outro desideratum: fornece-nos a voz de uma prima dona, livrando-nos de vê-la, e as suas muitas rugas e seus muitíssimos anos. Veio o cinematógrafo cantante, reuniu as duas invenções e realizou a maravilha, a perfeição, o suprassumo do aborrecimento. Quando o tenor canta: “Vem a meus braços!” a soprano já está atracada ou de volta. Depois que finda o “dó” de peito, ainda fica o tenor no pano, de boca aberta, alguns instantes. A isto chamou o inventor: sincronismo. Quando a voz e o gesto coincidirem, aprece que o fato se deverá chamar anacronismo.
Há cousas excelentes que “hurlent de se trouver ensemble”. O calomelanos é um pó muito apreciável e útil; o mesmo elogio merece o sal de cozinha. Reúnam-se, porém, os dois no estômago e o resultado será o sublimado corrosivo. Chama-se isso, em química, incompatibilidade.
Fenômeno semelhante sucede com o fonógrafo e o cinematógrafo. Separados são excelentes; juntos não provaram bem.
Gazeta de Notícias, 6 de novembro de 1911.
sexta-feira, 22 de julho de 2016
quarta-feira, 20 de julho de 2016
segunda-feira, 6 de junho de 2016
sexta-feira, 3 de junho de 2016
sábado, 21 de maio de 2016
terça-feira, 10 de maio de 2016
segunda-feira, 9 de maio de 2016
Urbano Duarte
HUMORISMOS
Um mal nunca vem sozinho, reza o adágio.
Outro tanto sucede com as carteiras. Vou explicar a asserção.
Um dos meus amigos íntimos nunca havia usado carteira, e isso por diferentes motivos.
Primeiro: a carteira seria para ele puro objeto de luxo, visto não ter o que guardar dentro. Costumava meter a sua fortuna no bolso das calças, até o dia 10; na algibeira do colete, do dia 10 ao 20; no buraco de um dente molar, do dia 20 ao fim do mês.
Eis que chega de fora um amigo íntimo do meu amigo íntimo, e presenteia-o com uma bela e original carteira.
Um alegrão! Passou por todas as emoções da estreia de uma carteira, e aproveita-se de qualquer ensejo para exibir o preciso utensílio aos olhos dos circunstantes, principalmente daqueles que não possuíam tal objeto.
Ao vê-lo passar de mão em mão, que divino prazer não fruía meu amigo, lendo nos seus olhos o ciúme, a inveja, a raiva, a ironia, o despeito profundo que sempre desperta nos corações bem ou mal formados a contemplação de um bonito presente que eles, os corações mal ou bem formados, não receberam!
Muito bem.
Ainda não se havia escoado a lua de mel com a linda carteira, quando, por ocasião de um festival para o qual fora especialmente convidado, o meu amigo recebe de mimo outra carteira.
Não era feia, não; porém o seu coração já estava ocupado pela primeira, e também o seu bolso.
Guardou-a na gaveta, enquanto excogitava gravemente que destino haveria de dar-lhe.
Entretanto há outra festa análoga à primeira, ele comparece como representante de certa corporação e...... tome carteira!
O meu amigo começou a desconfiar que aquilo era motejo da sorte ou então debique do destino.
Pensou em vender as duas últimas carteiras, a fim de meter o produto dentro da primeira; mas desistiu da ideia não só por natural escrúpulo, como também porque ninguém lhas quis comprar (esta razão é secundária, a principal foi o escrúpulo).
Deliberou então dá-las de presente, depois de se ter convencido de que não equivalia a fazer cortesia com chapéu alheio, visto como uma carteira minha não é um chapéu alheio.
(Quando um indivíduo discute consigo mesmo, e quer que o seu segundo eu concorde com o primeiro eu, tem sempre na algibeira um raciocínio específico igual ao precedente. A lógica do egoísmo foi formulada por M. Joseph Proudhomme na frase: C’est mon opinion et je la partage).
Resolveu pois, dar as duas carteiras de presente.
Mas a quem?
Muitas das pessoas a quem desejou mimosear já possuíam carteiras. Outras não usavam semelhante traste, por causa dos gatunos.
Um amigo, a quem em conversa manifestou a intenção de dar-lhe o presente , exclamou:
– Abrenúncio! Passa fora! É traste que nem pintado quero ver.
– Por que?
– Quando usava carteira perdi dois filhos, tive bexigas, diminuíram-me o ordenado e vivi sempre na quebradeira. Foi a minha macaca.
O homem desalentou.
Dias depois viu dois tinteiros sobre a mesa de um colega.
– Ah! que ideia! – murmurou ele – vou propor-lhe a troca de um tinteiro por duas carteiras.
E com muito jeito entabulou conversação, elogiou os tinteiros e perguntou-lhe:
– Usas carteira?
– Não. Tenho em casa meia dúzia delas. Queres uma?
Desta vez enfiou deveras e mandou o outro ao diabo, com um gesto indecoroso.
Por fim libertou-se das importunas remetendo-as pelo correio a dois cavalheiros do seu conhecimento, que os jornais participaram fazer anos.
Mas deixou de ir beber-lhes a cerveja aniversária, com receio do que lhe devolvessem as carteiras.
O Paiz, 11 de outubro de 1891.
Um mal nunca vem sozinho, reza o adágio.
Outro tanto sucede com as carteiras. Vou explicar a asserção.
Um dos meus amigos íntimos nunca havia usado carteira, e isso por diferentes motivos.
Primeiro: a carteira seria para ele puro objeto de luxo, visto não ter o que guardar dentro. Costumava meter a sua fortuna no bolso das calças, até o dia 10; na algibeira do colete, do dia 10 ao 20; no buraco de um dente molar, do dia 20 ao fim do mês.
Eis que chega de fora um amigo íntimo do meu amigo íntimo, e presenteia-o com uma bela e original carteira.
Um alegrão! Passou por todas as emoções da estreia de uma carteira, e aproveita-se de qualquer ensejo para exibir o preciso utensílio aos olhos dos circunstantes, principalmente daqueles que não possuíam tal objeto.
Ao vê-lo passar de mão em mão, que divino prazer não fruía meu amigo, lendo nos seus olhos o ciúme, a inveja, a raiva, a ironia, o despeito profundo que sempre desperta nos corações bem ou mal formados a contemplação de um bonito presente que eles, os corações mal ou bem formados, não receberam!
Muito bem.
Ainda não se havia escoado a lua de mel com a linda carteira, quando, por ocasião de um festival para o qual fora especialmente convidado, o meu amigo recebe de mimo outra carteira.
Não era feia, não; porém o seu coração já estava ocupado pela primeira, e também o seu bolso.
Guardou-a na gaveta, enquanto excogitava gravemente que destino haveria de dar-lhe.
Entretanto há outra festa análoga à primeira, ele comparece como representante de certa corporação e...... tome carteira!
O meu amigo começou a desconfiar que aquilo era motejo da sorte ou então debique do destino.
Pensou em vender as duas últimas carteiras, a fim de meter o produto dentro da primeira; mas desistiu da ideia não só por natural escrúpulo, como também porque ninguém lhas quis comprar (esta razão é secundária, a principal foi o escrúpulo).
Deliberou então dá-las de presente, depois de se ter convencido de que não equivalia a fazer cortesia com chapéu alheio, visto como uma carteira minha não é um chapéu alheio.
(Quando um indivíduo discute consigo mesmo, e quer que o seu segundo eu concorde com o primeiro eu, tem sempre na algibeira um raciocínio específico igual ao precedente. A lógica do egoísmo foi formulada por M. Joseph Proudhomme na frase: C’est mon opinion et je la partage).
Resolveu pois, dar as duas carteiras de presente.
Mas a quem?
Muitas das pessoas a quem desejou mimosear já possuíam carteiras. Outras não usavam semelhante traste, por causa dos gatunos.
Um amigo, a quem em conversa manifestou a intenção de dar-lhe o presente , exclamou:
– Abrenúncio! Passa fora! É traste que nem pintado quero ver.
– Por que?
– Quando usava carteira perdi dois filhos, tive bexigas, diminuíram-me o ordenado e vivi sempre na quebradeira. Foi a minha macaca.
O homem desalentou.
Dias depois viu dois tinteiros sobre a mesa de um colega.
– Ah! que ideia! – murmurou ele – vou propor-lhe a troca de um tinteiro por duas carteiras.
E com muito jeito entabulou conversação, elogiou os tinteiros e perguntou-lhe:
– Usas carteira?
– Não. Tenho em casa meia dúzia delas. Queres uma?
Desta vez enfiou deveras e mandou o outro ao diabo, com um gesto indecoroso.
Por fim libertou-se das importunas remetendo-as pelo correio a dois cavalheiros do seu conhecimento, que os jornais participaram fazer anos.
Mas deixou de ir beber-lhes a cerveja aniversária, com receio do que lhe devolvessem as carteiras.
O Paiz, 11 de outubro de 1891.
domingo, 8 de maio de 2016
sexta-feira, 6 de maio de 2016
R. Manso
História de incêndio
Andando no Tesouro atrás de um papel urgente que, segundo promessas muito positivas, será despachado antes de 1915, fui dar à 9a seção da 37a sub-diretoria, onde parei para tomar fôlego. O escriturário que tinha de registrá-lo no 623° protocolo saíra para tomar café.
“Tomar café” no Tesouro, é um eufemismo que serve para indicar a ausência temporária ou vitalícia de um funcionário. É tão inveterada ali essa linguagem que, quando se pergunta por um empregado destacado para o Acre ou Mato Grosso, o colega responde mecanicamente: “Saiu. Foi tomar café”. Como eu sei, por experiência própria, que o café de um escriturário leva a ser bebido pelo menos três horas, procurei uma cadeira e sentei-me.
O chefe da seção, diante de uma torre de papéis, conversava com um conhecido sobre o incêndio da Imprensa Nacional:
– Foi uma pena... Foi um grande prejuízo; mas senti não estar presente para ver a fogueira. Eu tenho muito medo de incêndios. Sempre digo aqui no Tesouro: “No dia em que cair um cigarro aceso numa cesta de papéis, este edifício pega fogo, que não se salvarão nem os alicerces”. Mas eles facilitam. E os fósforos de cera? É um perigo ainda maior. Se eu fosse o Congresso votaria uma lei proibindo expressamente a entrada de fósforos de cera nas repartições públicas. Eu vou lhe contar um caso de que estive me lembrando hoje de manhã, quando li os jornais. Foi na Bahia. Eu estava servindo na Delegacia Fiscal; eu e o Macedo. Que é dele?...
Estendeu o pescoço, verificou que o escriturário não estava e, vendo-me sentado resignadamente, disse:
– O senhor espere um pouco. O Macedo foi tomar café e volta já.
E continuou dirigindo-se ao amigo:
– É pena que o Macedo não esteja presente para você perguntar-lhe. Eu não gosto de gabar-me, mas nesse dia fiz um ato de heroísmo. Eu estava no teatro, quando chegou um contínuo esbaforido e disse: “A Delegacia Fiscal está pegando fogo!” Saí a toda pressa, encontrei a porta já arrombada e rolos de fumo a subirem por uma janela que ficara aberta. O meu chefe chegou nesse momento e disse-me: “Guimarães, que desgraça! Vai-se o arquivo todo da Delegacia e os processos que estão na minha mesa! Papéis tão importantes, que eu dava meus dois braços para salvá-los”.
Eu disse: – Os bombeiros podem salvá-los.
Ele disse: – Não chegarão mais a tempo.
Eu disse: – Se houvesse por aqui uma escada...
Ele disse: – Arranja-se uma.
Eu disse: – Pois arranje!
O chefe deu ordens e logo apareceu um sujeito com uma escada no ombro. Mandei encostá-la à janela, por onde saía o fogo... Ora! É pena o Macedo não estar presente para confirmar... posta a escada, perguntei:
– Está bem firme?
Ele disse: – Está!
Quando pus o pé no primeiro degrau, o chefe me segurou pelo braço e o Macedo pelo paletó:
– Guimarães, não faça isso! Você tem família! É um sacrifício inútil! Você não pode atravessar as chamas!... Não vá! Somos nós que pedimos!
Mas eu disse:
– Tenham paciência! É meu dever e hei de cumpri-lo!
Eles então largaram-me e disseram:
– Pois suba! Sua alma, sua palma!
Eu fiz o sinal da cruz (porque sou católico), mandei dois populares segurarem a escada, para ela não escorregar e...
Nesse momento chegava um escriturário, com uma pena atrás da orelha. O chefe de seção, contrafeito, suspendeu a narrativa e dirigiu-se ao recém-chegado:
– Oh Macedo, eu estava contando aqui o incêndio da Delegacia Fiscal da Bahia. Protocole o papel desse moço que está esperando há boa meia hora.
Desejando saber o resultado da história, perguntei ao chefe:
– E o senhor entrou a tempo de salvar os papéis?
Ele me encarou com rancor, relanceou os olhos sobre o Macedo e respondeu com aspereza:
– Pois o senhor me acha com cara de idiota, de entrar em um edifício em chamas?
Até agora não sei a que atribuir a irritação do Sr. Guimarães. Interroguei-o com toda a cortesia. Não era caso para ele me dar aquela resposta.
Gazeta de Notícias, 18 de setembro de 1911.
Andando no Tesouro atrás de um papel urgente que, segundo promessas muito positivas, será despachado antes de 1915, fui dar à 9a seção da 37a sub-diretoria, onde parei para tomar fôlego. O escriturário que tinha de registrá-lo no 623° protocolo saíra para tomar café.
“Tomar café” no Tesouro, é um eufemismo que serve para indicar a ausência temporária ou vitalícia de um funcionário. É tão inveterada ali essa linguagem que, quando se pergunta por um empregado destacado para o Acre ou Mato Grosso, o colega responde mecanicamente: “Saiu. Foi tomar café”. Como eu sei, por experiência própria, que o café de um escriturário leva a ser bebido pelo menos três horas, procurei uma cadeira e sentei-me.
O chefe da seção, diante de uma torre de papéis, conversava com um conhecido sobre o incêndio da Imprensa Nacional:
– Foi uma pena... Foi um grande prejuízo; mas senti não estar presente para ver a fogueira. Eu tenho muito medo de incêndios. Sempre digo aqui no Tesouro: “No dia em que cair um cigarro aceso numa cesta de papéis, este edifício pega fogo, que não se salvarão nem os alicerces”. Mas eles facilitam. E os fósforos de cera? É um perigo ainda maior. Se eu fosse o Congresso votaria uma lei proibindo expressamente a entrada de fósforos de cera nas repartições públicas. Eu vou lhe contar um caso de que estive me lembrando hoje de manhã, quando li os jornais. Foi na Bahia. Eu estava servindo na Delegacia Fiscal; eu e o Macedo. Que é dele?...
Estendeu o pescoço, verificou que o escriturário não estava e, vendo-me sentado resignadamente, disse:
– O senhor espere um pouco. O Macedo foi tomar café e volta já.
E continuou dirigindo-se ao amigo:
– É pena que o Macedo não esteja presente para você perguntar-lhe. Eu não gosto de gabar-me, mas nesse dia fiz um ato de heroísmo. Eu estava no teatro, quando chegou um contínuo esbaforido e disse: “A Delegacia Fiscal está pegando fogo!” Saí a toda pressa, encontrei a porta já arrombada e rolos de fumo a subirem por uma janela que ficara aberta. O meu chefe chegou nesse momento e disse-me: “Guimarães, que desgraça! Vai-se o arquivo todo da Delegacia e os processos que estão na minha mesa! Papéis tão importantes, que eu dava meus dois braços para salvá-los”.
Eu disse: – Os bombeiros podem salvá-los.
Ele disse: – Não chegarão mais a tempo.
Eu disse: – Se houvesse por aqui uma escada...
Ele disse: – Arranja-se uma.
Eu disse: – Pois arranje!
O chefe deu ordens e logo apareceu um sujeito com uma escada no ombro. Mandei encostá-la à janela, por onde saía o fogo... Ora! É pena o Macedo não estar presente para confirmar... posta a escada, perguntei:
– Está bem firme?
Ele disse: – Está!
Quando pus o pé no primeiro degrau, o chefe me segurou pelo braço e o Macedo pelo paletó:
– Guimarães, não faça isso! Você tem família! É um sacrifício inútil! Você não pode atravessar as chamas!... Não vá! Somos nós que pedimos!
Mas eu disse:
– Tenham paciência! É meu dever e hei de cumpri-lo!
Eles então largaram-me e disseram:
– Pois suba! Sua alma, sua palma!
Eu fiz o sinal da cruz (porque sou católico), mandei dois populares segurarem a escada, para ela não escorregar e...
Nesse momento chegava um escriturário, com uma pena atrás da orelha. O chefe de seção, contrafeito, suspendeu a narrativa e dirigiu-se ao recém-chegado:
– Oh Macedo, eu estava contando aqui o incêndio da Delegacia Fiscal da Bahia. Protocole o papel desse moço que está esperando há boa meia hora.
Desejando saber o resultado da história, perguntei ao chefe:
– E o senhor entrou a tempo de salvar os papéis?
Ele me encarou com rancor, relanceou os olhos sobre o Macedo e respondeu com aspereza:
– Pois o senhor me acha com cara de idiota, de entrar em um edifício em chamas?
Até agora não sei a que atribuir a irritação do Sr. Guimarães. Interroguei-o com toda a cortesia. Não era caso para ele me dar aquela resposta.
Gazeta de Notícias, 18 de setembro de 1911.
terça-feira, 3 de maio de 2016
Gastão Bousquet
Gastão Raul de Forton Bousquet (1870 — 1918).
Utilizou n'O Paiz o pseudônimo de J. Repórter.
O Paiz, 14 de janeiro de 1903.
Utilizou n'O Paiz o pseudônimo de J. Repórter.
O Paiz, 14 de janeiro de 1903.
segunda-feira, 2 de maio de 2016
terça-feira, 26 de abril de 2016
R. Manso
Bom tom
Os manuais de bom-tom têm o defeito de ser muito resumidos e às vezes incompletos. Minha professora primária (Deus lhe reserve a melhor harpa do paraíso) dizia sempre que a primeira regra de bom-tom é a que proíbe introduzir-se, em público, o dedo no nariz. Durante muitos anos supus que fosse esse o princípio fundamental da boa educação. Hoje, porém, tenho alguma dúvida a esse respeito. Tenho percorrido manuais do bom-tom franceses, ingleses, italianos, espanhóis, inclusive as máximas do bom homem Ricardo, e nenhum deles se ocupa do nariz. Nem a menos referência.
Outra regra deficiente dos ditos manuais é a que manda, secamente, “dar precedência às senhoras nos veículos e lugares públicos”. Só tenho visto aplicada quando concorrem duas circunstâncias: a) de haver terceiras pessoas observando; b) da senhora em questão ser elegante e bem trajada.
Todavia a observância dessa regra não é tão rigorosa como se supõe. Uma professora, minha conhecida, afirma mesmo, categoricamente, que não há no Rio um só cavalheiro que a não infrinja. E ela fala com autoridade; porque nunca vi senhora mais meticulosa e educada. Terá talvez trinta anos no máximo, mas tal é a sua circunspecção que todos lhe dão cinqüenta. Alimenta-se apenas de bicarbonato de sódio, semanas e semanas seguidas, salvo nos domingos, em que se permite o luxo de um pouco de óleo de rícino. Quanto a bebidas é “tecto taler”, abstêmia completa, e se bebe um pouco de água de Janos, é por conselho do médico. Pois essa senhora distintíssima como é, me assegurou que nunca viu no Rio um cavalheiro lhe ceder o lugar no bonde, nem se afastar num trottoir estreito para ela passar, nem lhe emprestar o guarda-chuva, nem lhe apanhar o leque, nem a bolinar, nem nada...
Da sua experiência pessoa ela, por um método anticientífico, generaliza e conclui que os homens no Rio são indiferentes às senhoras.
Eu, pelo menos, não o sou.
Ainda ontem dei disso prova na Estação Central. Aproximava-me do guichê para comprar uma passagem, quando senti uma espetada ao lado. Era o cotovelo de uma senhora que abria o caminho para a bilheteria, acompanhada de outra, cujo rosto não me elucidou se era a sua avó ou neta. Talvez fosse irmã; o que é certo é que se chamava D. Estácia. Cedi-lhes a frente, como era meu dever, e fiquei ao lado à espera, embora com receio de perder o trem.
D. Estácia dirigiu-se à companheira:
– Lota, não compre ida e volta, porque talvez tenhamos de dormir lá.
– E se eles não estiverem em casa, havemos de ficar assim mesmo?
– Não. É melhor comprar ida e volta.
E introduzindo uma nota de 5$ no guichê pediu:
– Duas, de ida e vol...
Mas não pode terminar, porque a outra lhe puxou o braço, reclamando:
– Não senhora! não consinto! Era só o que faltava... Pois eu convido e você quer pagar? Não; deixe... Eu tenho aqui trocado.
– Mas eu preciso trocar essa nota. Tenho muita despesa que fazer e me falta dinheiro miúdo...
O trem apitou. Consultei o relógio impaciente. Já uma multidão se atropelava atrás de nós, murmurando. D. Estácia continuou:
– Não consinto. Tenha paciência!...
E vasculhando a bolsa:
– Gente!... Ora esta!... Quer ver que esqueci o dinheiro em casa? Mas não é possível... Eu me lembro de ter posto aqui duas pratas de mil réis e uma nota de 5$000.
O bilheteiro atalhou:
– Vamos. Façam o obséquio de despachar-se. Tenho que atender aos outros.
D. Estácia aproveitou a saída para o “impasse” em que se metera, oferecendo-se a pagar as passagens, sem dinheiro, e explodiu:
– Se eu tivesse um homem aqui, o senhor não me diria esse desaforo! Malcriado!... E não há aqui um homem, um ao menos, que tome a defesa de uma mulher desrespeitada?!...
Estas últimas palavras foram dirigidas, entre lágrimas, à minha direção. Como não gosto de ver ninguém chorar, afastei-me.
Um amigo, a quem propus iniciarmos uma campanha para a reforma do código do Bom-Tom, respondeu-me:
– Não me fale isso. O código do Bom-Tom é como a Constituição – intangível. Ambos devem continuar intactos. A questão é saber desrespeitá-los no momento oportuno.
Gazeta de Notícias, 16 de outubro de 1911.
Os manuais de bom-tom têm o defeito de ser muito resumidos e às vezes incompletos. Minha professora primária (Deus lhe reserve a melhor harpa do paraíso) dizia sempre que a primeira regra de bom-tom é a que proíbe introduzir-se, em público, o dedo no nariz. Durante muitos anos supus que fosse esse o princípio fundamental da boa educação. Hoje, porém, tenho alguma dúvida a esse respeito. Tenho percorrido manuais do bom-tom franceses, ingleses, italianos, espanhóis, inclusive as máximas do bom homem Ricardo, e nenhum deles se ocupa do nariz. Nem a menos referência.
Outra regra deficiente dos ditos manuais é a que manda, secamente, “dar precedência às senhoras nos veículos e lugares públicos”. Só tenho visto aplicada quando concorrem duas circunstâncias: a) de haver terceiras pessoas observando; b) da senhora em questão ser elegante e bem trajada.
Todavia a observância dessa regra não é tão rigorosa como se supõe. Uma professora, minha conhecida, afirma mesmo, categoricamente, que não há no Rio um só cavalheiro que a não infrinja. E ela fala com autoridade; porque nunca vi senhora mais meticulosa e educada. Terá talvez trinta anos no máximo, mas tal é a sua circunspecção que todos lhe dão cinqüenta. Alimenta-se apenas de bicarbonato de sódio, semanas e semanas seguidas, salvo nos domingos, em que se permite o luxo de um pouco de óleo de rícino. Quanto a bebidas é “tecto taler”, abstêmia completa, e se bebe um pouco de água de Janos, é por conselho do médico. Pois essa senhora distintíssima como é, me assegurou que nunca viu no Rio um cavalheiro lhe ceder o lugar no bonde, nem se afastar num trottoir estreito para ela passar, nem lhe emprestar o guarda-chuva, nem lhe apanhar o leque, nem a bolinar, nem nada...
Da sua experiência pessoa ela, por um método anticientífico, generaliza e conclui que os homens no Rio são indiferentes às senhoras.
Eu, pelo menos, não o sou.
Ainda ontem dei disso prova na Estação Central. Aproximava-me do guichê para comprar uma passagem, quando senti uma espetada ao lado. Era o cotovelo de uma senhora que abria o caminho para a bilheteria, acompanhada de outra, cujo rosto não me elucidou se era a sua avó ou neta. Talvez fosse irmã; o que é certo é que se chamava D. Estácia. Cedi-lhes a frente, como era meu dever, e fiquei ao lado à espera, embora com receio de perder o trem.
D. Estácia dirigiu-se à companheira:
– Lota, não compre ida e volta, porque talvez tenhamos de dormir lá.
– E se eles não estiverem em casa, havemos de ficar assim mesmo?
– Não. É melhor comprar ida e volta.
E introduzindo uma nota de 5$ no guichê pediu:
– Duas, de ida e vol...
Mas não pode terminar, porque a outra lhe puxou o braço, reclamando:
– Não senhora! não consinto! Era só o que faltava... Pois eu convido e você quer pagar? Não; deixe... Eu tenho aqui trocado.
– Mas eu preciso trocar essa nota. Tenho muita despesa que fazer e me falta dinheiro miúdo...
O trem apitou. Consultei o relógio impaciente. Já uma multidão se atropelava atrás de nós, murmurando. D. Estácia continuou:
– Não consinto. Tenha paciência!...
E vasculhando a bolsa:
– Gente!... Ora esta!... Quer ver que esqueci o dinheiro em casa? Mas não é possível... Eu me lembro de ter posto aqui duas pratas de mil réis e uma nota de 5$000.
O bilheteiro atalhou:
– Vamos. Façam o obséquio de despachar-se. Tenho que atender aos outros.
D. Estácia aproveitou a saída para o “impasse” em que se metera, oferecendo-se a pagar as passagens, sem dinheiro, e explodiu:
– Se eu tivesse um homem aqui, o senhor não me diria esse desaforo! Malcriado!... E não há aqui um homem, um ao menos, que tome a defesa de uma mulher desrespeitada?!...
Estas últimas palavras foram dirigidas, entre lágrimas, à minha direção. Como não gosto de ver ninguém chorar, afastei-me.
Um amigo, a quem propus iniciarmos uma campanha para a reforma do código do Bom-Tom, respondeu-me:
– Não me fale isso. O código do Bom-Tom é como a Constituição – intangível. Ambos devem continuar intactos. A questão é saber desrespeitá-los no momento oportuno.
Gazeta de Notícias, 16 de outubro de 1911.
quinta-feira, 14 de abril de 2016
segunda-feira, 11 de abril de 2016
R. Manso
Um homem de coragem
Passava eu ontem, despreocupadamente, por uma rua da Lapa. Na volta de uma esquina topei com um sujeito grisalho, de óculos na testa e sem chapéu, a capturar transeuntes no meio da rua. A princípio supus que fosse um agente do Alexandre Braga, talvez o próprio Carnum do propagandista serôdio, empenhado em organizar auditório para a “matinée” do Palace Theatre. Nessa suposição planejava eu a defesa e ia já transferir o revólver do bolso da calça para o do casaco, quando tal sujeito me deitou a mão ao ombro:
– Está seguro!
– Mas como? por que? A Constituição, no art. 72, § 13, garante...
– Conversaremos depois, cavalheiro; agora é inútil. Queira entrar.
E me impeliu para uma sala tristonha, onde passeava um homem agitado, nervoso, entre quatro sujeitos soturnos, de cabeça baixa. Reinava um ambiente de má notícia. O grisalho tomou a palavra:
– Meus senhores, queiram desculpar-me se lhes causo algum transtorno. Mas trata-se de um caso urgente. Aqui o Sr. José Gomes Fortunato, conhecido pelo próprio, de mim tabelião, estando para praticar uma temeridade...
– Por dever profissional, atalhou o protagonista.
– Seja por dever ou não, é uma temeridade. Ninguém pode contestá-lo... Quer por isso fazer o seu testamento. E como faltavam testemunhas varões, maiores de 14 anos, tomei a liberdade de aprisioná-los. Dada esta explicação, vamos à obra.
Pela porta semicerrada entravam soluços e lamentações de senhoras, que choravam no aposento contíguo.
José Gomes, com perfeita coragem, apenas um temor imperceptível na voz, ditou do começo ao fim o seu testamento. Declarava que, se viesse a morrer, não culpassem de sua morte a ninguém. Pedia que não lhe atribuíssem intenção de suicídio, embora o ato que ia praticar pudesse deixar transparecer esse propósito. Que o impelia somente o dever profissional e nenhum outro motivo. Que, falecendo ele testador, como era muito provável, desejava que o sepultassem “in situ”, para não dar incômodo maior à família. Finalmente pedia que sobre a sua sepultura colocasse uma lousa singela, com esta simples inscrição – “Mártir do dever”.
Ao ditar estas últimas palavras, irromperam na sala três ou quatro senhoras desgrenhadas e uma dúzia de meninos e meninas, debulhados em lágrimas, que abraçaram o testador, se agarraram às suas pernas, exclamando ao mesmo tempo:
– Meu marido, tenha pena destas crianças!
– Papai, não vá morrer! Não vá papai!
– Meu genro, isto é um crime! Quem há de amparar estes orfãozinhos?
– Ah! Meu Deus!
– Que há de ser de nós...
Com o coração dilacerado, mal contendo uma lágrima inoportuna, que estava por um triz a pingar, dirigi-me à mesa para deixar a minha assinatura no testamento. Eu estava imaginando que o testador ia se prestar à inoculação do “bacillus virgula”, que produz o “cholera morbus” ou do bacilo de Nicolaier, que causa o tétano, para alguma experiência científica; mas entre as lamentações, ouvi a palavra aeroplano. Perguntei ao tabelião se o testador ia voar:
– Vai, respondeu ele. Vai em aeroplano do pico do Corcovado a Juiz de Fora, sem parar no caminho, mantendo-se sempre à altura de mil metros.
Isto disse o tabelião, alto. Depois, baixando a voz, falou-me ao ouvido:
– Essa história de aeroplano é forjada para não assustar demais a família. Na verdade o perigo é muito mais grave.
– Maior ainda?
– Sim senhor. Ele vai mesmo a Juiz de Fora, mas no expresso da Central.
Lancei um olhar de compaixão sobre aqueles dez órfãos prévios e saí.
Há muita gente temerária neste mundo...
Gazeta de Notícias, 10 de outubro de 1911.
Passava eu ontem, despreocupadamente, por uma rua da Lapa. Na volta de uma esquina topei com um sujeito grisalho, de óculos na testa e sem chapéu, a capturar transeuntes no meio da rua. A princípio supus que fosse um agente do Alexandre Braga, talvez o próprio Carnum do propagandista serôdio, empenhado em organizar auditório para a “matinée” do Palace Theatre. Nessa suposição planejava eu a defesa e ia já transferir o revólver do bolso da calça para o do casaco, quando tal sujeito me deitou a mão ao ombro:
– Está seguro!
– Mas como? por que? A Constituição, no art. 72, § 13, garante...
– Conversaremos depois, cavalheiro; agora é inútil. Queira entrar.
E me impeliu para uma sala tristonha, onde passeava um homem agitado, nervoso, entre quatro sujeitos soturnos, de cabeça baixa. Reinava um ambiente de má notícia. O grisalho tomou a palavra:
– Meus senhores, queiram desculpar-me se lhes causo algum transtorno. Mas trata-se de um caso urgente. Aqui o Sr. José Gomes Fortunato, conhecido pelo próprio, de mim tabelião, estando para praticar uma temeridade...
– Por dever profissional, atalhou o protagonista.
– Seja por dever ou não, é uma temeridade. Ninguém pode contestá-lo... Quer por isso fazer o seu testamento. E como faltavam testemunhas varões, maiores de 14 anos, tomei a liberdade de aprisioná-los. Dada esta explicação, vamos à obra.
Pela porta semicerrada entravam soluços e lamentações de senhoras, que choravam no aposento contíguo.
José Gomes, com perfeita coragem, apenas um temor imperceptível na voz, ditou do começo ao fim o seu testamento. Declarava que, se viesse a morrer, não culpassem de sua morte a ninguém. Pedia que não lhe atribuíssem intenção de suicídio, embora o ato que ia praticar pudesse deixar transparecer esse propósito. Que o impelia somente o dever profissional e nenhum outro motivo. Que, falecendo ele testador, como era muito provável, desejava que o sepultassem “in situ”, para não dar incômodo maior à família. Finalmente pedia que sobre a sua sepultura colocasse uma lousa singela, com esta simples inscrição – “Mártir do dever”.
Ao ditar estas últimas palavras, irromperam na sala três ou quatro senhoras desgrenhadas e uma dúzia de meninos e meninas, debulhados em lágrimas, que abraçaram o testador, se agarraram às suas pernas, exclamando ao mesmo tempo:
– Meu marido, tenha pena destas crianças!
– Papai, não vá morrer! Não vá papai!
– Meu genro, isto é um crime! Quem há de amparar estes orfãozinhos?
– Ah! Meu Deus!
– Que há de ser de nós...
Com o coração dilacerado, mal contendo uma lágrima inoportuna, que estava por um triz a pingar, dirigi-me à mesa para deixar a minha assinatura no testamento. Eu estava imaginando que o testador ia se prestar à inoculação do “bacillus virgula”, que produz o “cholera morbus” ou do bacilo de Nicolaier, que causa o tétano, para alguma experiência científica; mas entre as lamentações, ouvi a palavra aeroplano. Perguntei ao tabelião se o testador ia voar:
– Vai, respondeu ele. Vai em aeroplano do pico do Corcovado a Juiz de Fora, sem parar no caminho, mantendo-se sempre à altura de mil metros.
Isto disse o tabelião, alto. Depois, baixando a voz, falou-me ao ouvido:
– Essa história de aeroplano é forjada para não assustar demais a família. Na verdade o perigo é muito mais grave.
– Maior ainda?
– Sim senhor. Ele vai mesmo a Juiz de Fora, mas no expresso da Central.
Lancei um olhar de compaixão sobre aqueles dez órfãos prévios e saí.
Há muita gente temerária neste mundo...
Gazeta de Notícias, 10 de outubro de 1911.
domingo, 3 de abril de 2016
Urbano Duarte
Um primo que tenho, empregado público em certo estado, escreveu-me participando que viria brevemente passar uma semana em minha casa. Ao ler esta ameaça senti um frio nos intestinos, porque sempre tive horror pelos parentes que fazem visita de uma semana em tempo de carne fresca a 700 réis. Respondi-lhe dizendo que a casa estava às ordens, que teria muito prazer em hospedá-lo, mas que talvez fosse prudente adiar a viagem, porque a maldita febre amarela, em pleno mês de agosto, estava grassando no meu quarteirão. Mas este plano de defesa não serviu, porquanto o diabo do primo mandou-me dizer que é refratário ao micróbio xantogênico e até já residiu por muito tempo junto de um hospital amarelo.
Vendo os meus bifes em xeque-mate, cocei a cabeça, cofiei os bigodes, apertei os beiços, franzi os sobrolhos e retorqui ponderando-lhe que sentiria o maior prazer, etc., etc., mas que ele já estava desaclimatado, que a febre amarela andava maluca, não distinguia mais os nacionais dos estrangeiros, e que ultimamente tinha tomado um caráter pernicioso fulminante, de fogo viste linguiça, ai, ai, Caju! Citei-lhe até o caso do primo de um amigo, que tendo desembarcado na estação central sem febre alguma, ao chegar ao mangue ardia em 40 graus, em frente da Quinta vomitava preto, no campo de S. Cristóvão fazia testamento, e na praia do Caju entrava com o seu próprio pé para o cemitério.
Nada!
O terrível primo replicou-me em ar de troça que não tinha medo e o esperasse no domingo sem falta.
Como último cartucho de defesa da praça sitiada, escrevi-lhe repetindo que seria recebido de braços abertos, etc., etc., mas que não contasse ser tratado como merecia, porque os víveres estavam caríssimos, a carne seca subira à altura de peru, e o peru à altura de um sonho.
Como resposta tive este telegrama conciso: Sigo hoje.
E estou com o primo em casa.
Mas que apetite! Corta o coração ver como ele corta a carne de sete tostões! Vou escrever-lhe cartas anônimas, aconselhando-lhe que não seja filante.
Em último recurso, tempero a sopa com poaia.
O Paiz, 15 de agosto de 1891.
Vendo os meus bifes em xeque-mate, cocei a cabeça, cofiei os bigodes, apertei os beiços, franzi os sobrolhos e retorqui ponderando-lhe que sentiria o maior prazer, etc., etc., mas que ele já estava desaclimatado, que a febre amarela andava maluca, não distinguia mais os nacionais dos estrangeiros, e que ultimamente tinha tomado um caráter pernicioso fulminante, de fogo viste linguiça, ai, ai, Caju! Citei-lhe até o caso do primo de um amigo, que tendo desembarcado na estação central sem febre alguma, ao chegar ao mangue ardia em 40 graus, em frente da Quinta vomitava preto, no campo de S. Cristóvão fazia testamento, e na praia do Caju entrava com o seu próprio pé para o cemitério.
Nada!
O terrível primo replicou-me em ar de troça que não tinha medo e o esperasse no domingo sem falta.
Como último cartucho de defesa da praça sitiada, escrevi-lhe repetindo que seria recebido de braços abertos, etc., etc., mas que não contasse ser tratado como merecia, porque os víveres estavam caríssimos, a carne seca subira à altura de peru, e o peru à altura de um sonho.
Como resposta tive este telegrama conciso: Sigo hoje.
E estou com o primo em casa.
Mas que apetite! Corta o coração ver como ele corta a carne de sete tostões! Vou escrever-lhe cartas anônimas, aconselhando-lhe que não seja filante.
Em último recurso, tempero a sopa com poaia.
O Paiz, 15 de agosto de 1891.
segunda-feira, 28 de março de 2016
R. Manso
Nomes de ruas
A Municipalidade precisa acabar definitivamente com a confusão que reina na denominação das ruas. É verdade que, com essa medida, o Hospício perderá grande parte de sua clientela de estafetas e cobradores. Devo declarar, com lealdade, que reconheço esse inconveniente. Mas o prejuízo pode ser compensado; é questão de pouco tempo. Basta que se imponha a substituição da buzina de todos os automóveis, pelas trombetas de caça que já foram adotadas em alguns. Se a loucura entra pelo ouvido, como supõem alguns psiquiatras, pode ser que se venha a descobrir outro processo tão eficaz como esse. Melhor, não. (*)
Um sujeito vindo do interior (principalmente se for tolo) não pode encontrar a rua do Ouvidor, nem a Direita, porque a primeira se chama Moreira César, e a segunda 1° de Março. Certo deputado do norte disse-me uma vez, referindo-se à rua do Ouvidor, que é absurdo esse sistema de colocar em uma rua tabuletas com nome diferente. Essa observação é muito razoável. Aliás, quem a fez é um homem muito atilado e inteligente. É o mesmo que descobriu o motivo pelo qual o oceano não transborda apesar de estarem constantemente nele desaguando enormes rios como o Amazonas, o Mississipi, o S. Francisco, e mil outros. (**)
Não há cousa mais efêmera do que o nome de uma rua do Rio. As consequências são perniciosas. O cobrador de alfaiate que foi uma vez receber uma conta na rua Chico Diabo, procurou, segundo lhe indicaram, a rua D. Ana, de Botafogo. Não morava lá o freguês. Mas informaram ao cobrador que havia outra rua D. Ana no Engenho Velho. Também não era a procurada. Remeteram-no a São Cristóvão. De diversas origens então, ele recebeu confirmação de que a rua D. Ana, junto da Progresso de S. Cristóvão, é que era a legítima Chico Diabo. Nessas idas e vindas levou um mês. E afinal teve de desistir da cobrança e ficou prejudicado porque aconteceu ao seu patrão a maior desgraça que pode suceder a um alfaiate. (***)
Mas há uma irregularidade maior e que eu aponto aqui, sem nenhuma intenção de intriga. É a preferência que a prefeitura dá a certos santos em detrimento de outros. Sant’Ana possui oito ou dez ruas, morros e travessas. Santo Antônio também, está bem aquinhoado. No entanto o pobre de Santo Expedito, se não tivesse uma ruazinha de cinco metros em Copacabana, estaria nas mesmas condições de S. Borromeu, S. Nicácio, Santa Fausta e tantos outros escandalosamente lesados.
_________
(*) Depois de escrever isto, ouvi pessoa competente, a qual me declarou que essa minha opinião é uma asneira. Por isso renuncio a ela e a renego, para que, no futuro, ninguém me possa assacar a calúnia de que eu disse cousa semelhante. Assegurou-me a pessoa a quem consultei que me iludi com a exclamação que se solta frequentemente na Bolsa, ou no Lírico, ou em um recreio de colegiais: “Este barulho me põe doido!”. A loucura não é nunca produzida pelo ruído, mas muitas vezes pelo “treponema pallidum”, o qual (segundo a autoridade que velho citando) nunca, ou raramente, entra pelo ouvido. Se assim é, o micróbio dá mostra de pouco senso. É o conceito que merece um beligerante que para invadir terra inimiga, deixa uma enseada profunda e abrigada (como o ouvido) para escalar talvez um... promontório. Acato muito a opinião dos médicos, quando não vai de encontro aos fatos. Mas o barulho já tem reputação feita de ser cousa perigosa. Principalmente barulho de trombetas. E, por ventura, o juízo dos cariocas é mais sólido que as muralhas de Jericó?
(**) O oceano não transborda, segundo esse deputado, porque está cheio de esponjas.
(***) A maior desgraça que pode acontecer a um alfaiate é a morte do devedor, sem lhe ter pago. É a essa que me refiro. Porque há outras. Por exemplo: um alfaiate segurar o seu estabelecimento contra fogo e, no dia seguinte, vir estabelecer-se no pavimento térreo do mesmo prédio uma estação de – bombeiros.
Gazeta de Notícias, 6 de outubro de 1911.
A Municipalidade precisa acabar definitivamente com a confusão que reina na denominação das ruas. É verdade que, com essa medida, o Hospício perderá grande parte de sua clientela de estafetas e cobradores. Devo declarar, com lealdade, que reconheço esse inconveniente. Mas o prejuízo pode ser compensado; é questão de pouco tempo. Basta que se imponha a substituição da buzina de todos os automóveis, pelas trombetas de caça que já foram adotadas em alguns. Se a loucura entra pelo ouvido, como supõem alguns psiquiatras, pode ser que se venha a descobrir outro processo tão eficaz como esse. Melhor, não. (*)
Um sujeito vindo do interior (principalmente se for tolo) não pode encontrar a rua do Ouvidor, nem a Direita, porque a primeira se chama Moreira César, e a segunda 1° de Março. Certo deputado do norte disse-me uma vez, referindo-se à rua do Ouvidor, que é absurdo esse sistema de colocar em uma rua tabuletas com nome diferente. Essa observação é muito razoável. Aliás, quem a fez é um homem muito atilado e inteligente. É o mesmo que descobriu o motivo pelo qual o oceano não transborda apesar de estarem constantemente nele desaguando enormes rios como o Amazonas, o Mississipi, o S. Francisco, e mil outros. (**)
Não há cousa mais efêmera do que o nome de uma rua do Rio. As consequências são perniciosas. O cobrador de alfaiate que foi uma vez receber uma conta na rua Chico Diabo, procurou, segundo lhe indicaram, a rua D. Ana, de Botafogo. Não morava lá o freguês. Mas informaram ao cobrador que havia outra rua D. Ana no Engenho Velho. Também não era a procurada. Remeteram-no a São Cristóvão. De diversas origens então, ele recebeu confirmação de que a rua D. Ana, junto da Progresso de S. Cristóvão, é que era a legítima Chico Diabo. Nessas idas e vindas levou um mês. E afinal teve de desistir da cobrança e ficou prejudicado porque aconteceu ao seu patrão a maior desgraça que pode suceder a um alfaiate. (***)
Mas há uma irregularidade maior e que eu aponto aqui, sem nenhuma intenção de intriga. É a preferência que a prefeitura dá a certos santos em detrimento de outros. Sant’Ana possui oito ou dez ruas, morros e travessas. Santo Antônio também, está bem aquinhoado. No entanto o pobre de Santo Expedito, se não tivesse uma ruazinha de cinco metros em Copacabana, estaria nas mesmas condições de S. Borromeu, S. Nicácio, Santa Fausta e tantos outros escandalosamente lesados.
_________
(*) Depois de escrever isto, ouvi pessoa competente, a qual me declarou que essa minha opinião é uma asneira. Por isso renuncio a ela e a renego, para que, no futuro, ninguém me possa assacar a calúnia de que eu disse cousa semelhante. Assegurou-me a pessoa a quem consultei que me iludi com a exclamação que se solta frequentemente na Bolsa, ou no Lírico, ou em um recreio de colegiais: “Este barulho me põe doido!”. A loucura não é nunca produzida pelo ruído, mas muitas vezes pelo “treponema pallidum”, o qual (segundo a autoridade que velho citando) nunca, ou raramente, entra pelo ouvido. Se assim é, o micróbio dá mostra de pouco senso. É o conceito que merece um beligerante que para invadir terra inimiga, deixa uma enseada profunda e abrigada (como o ouvido) para escalar talvez um... promontório. Acato muito a opinião dos médicos, quando não vai de encontro aos fatos. Mas o barulho já tem reputação feita de ser cousa perigosa. Principalmente barulho de trombetas. E, por ventura, o juízo dos cariocas é mais sólido que as muralhas de Jericó?
(**) O oceano não transborda, segundo esse deputado, porque está cheio de esponjas.
(***) A maior desgraça que pode acontecer a um alfaiate é a morte do devedor, sem lhe ter pago. É a essa que me refiro. Porque há outras. Por exemplo: um alfaiate segurar o seu estabelecimento contra fogo e, no dia seguinte, vir estabelecer-se no pavimento térreo do mesmo prédio uma estação de – bombeiros.
Gazeta de Notícias, 6 de outubro de 1911.
quinta-feira, 24 de março de 2016
quarta-feira, 23 de março de 2016
terça-feira, 22 de março de 2016
sábado, 19 de março de 2016
Assinar:
Postagens (Atom)